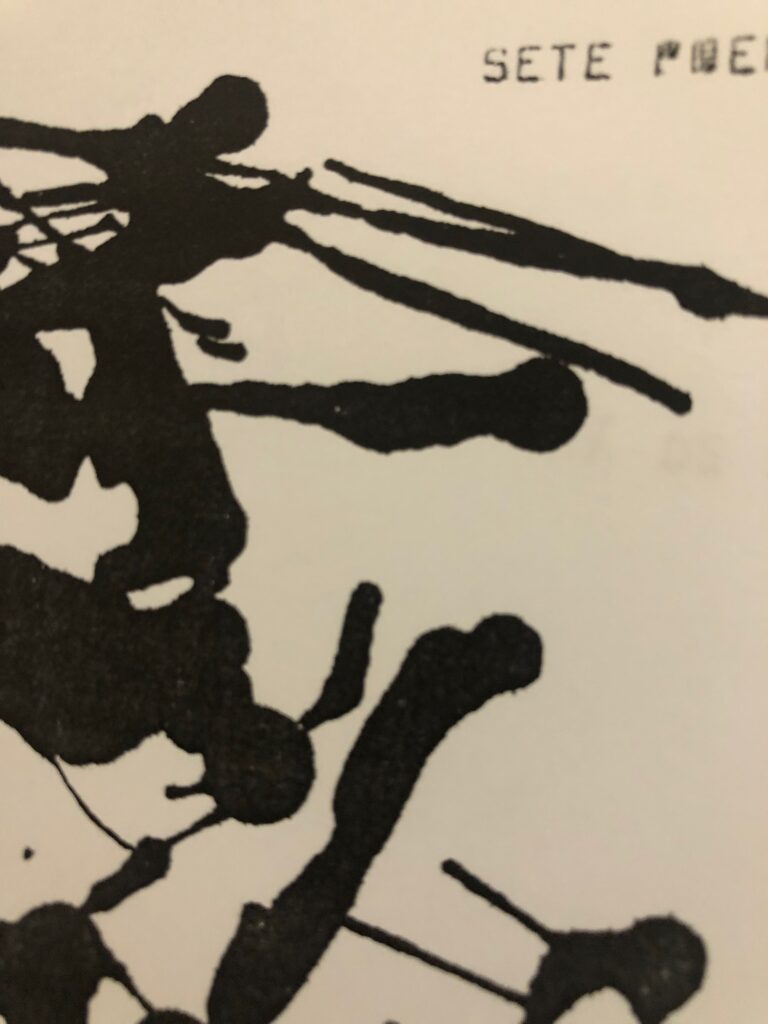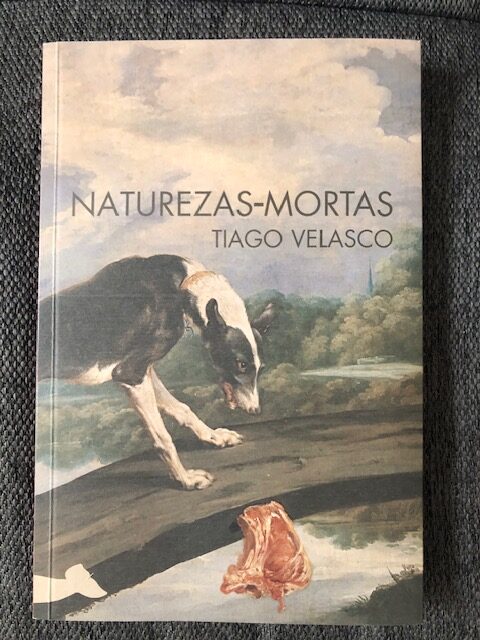
Pode ser preciso ter sangue beeem frio, e muito amor, pra desenrolar sobre futebol com o Tiago Velasco. Isso, no caso de o interlocutor torcer para um time diferente daquele defendido pelo autor de “Naturezas-mortas” (Editora Cachalote). Mas foram tantos os dribles, gols e assistências vistos aqui nos 40 lances do livro que um clima de pelada deve apoiar a construção de uma bastante merecida crônica/resenha elogiosa. É em alguns sentidos um risco, claro, mas quem não chuta não marca. O paralelo ainda joga luz sobre uma, digamos, charmosa sisudez que de vez em quando surge na obra e ajuda a segurar o leitor-torcedor — além de conduzi-lo com segurança para aquele bom mastigamento psicanalítico de capim com que a gente tenta levar a vida. Tem jogada que serve para deixar o malandro pensativo.
Os dribles. A gente quer ver gol, mas drible… drible também é muito bom, cara. Velasco faz isso, por exemplo, deixando o público na dúvida sobre o que ele estava espiando quando elaborou cada um daqueles textinhos. Quais foram os problemas que não tinha conseguido deixar fora do campo, quando juntou papagaio, uma senhora e Julio Iglesias? Por que demorou a bicar a bola, quando quase preencheu uma página (coisa que só acontece duas vezes)? E quando parece que entendemos alguma coisa e não vamos cair nem tampouco seremos deixados para trás, num próximo confronto, a brincadeira parece mudar. Sutilmente. Ele pode não estar jogando, mas falando do jogo de alguém.
É preciso fugir da comparação com redações de escola, quando põem a gente para escrever sobre os mais diversos assuntos que não são tão diversos assim. Parece que às vezes o autor está lendo/zoando um manual. Ou oferecendo um. Um manual. Assim como fica claro que um certo punhado de linhas veio da capa ou da publicidade impressa numa revista antiga. Despretensioso? Não é. Quem também escreve percebe isso de pronto e pode ficar pensando se ele de cara fez textos maiores para, em seguida, ir enxugando tudo. Resta a sensação de que essa poda, se foi o que aconteceu, acaba abrindo janelas.
De cara, “Naturezas-mortas” parecia pegar carona numa brincadeira que rolou, meses/anos atrás: “Words Only Instagram” (Insta só de palavras), que se explica pelo próprio nome. Termina mostrando-se bem mais do que isso. Soa “velho”, ao sugerir um flerte com outro jogo, o (quase-)falecido Palavras Cruzadas. Quando foi que você leu “oblongo” pela última vez? As palavras, claro, são peças-chave, na brincadeira. Porque ao se repetirem aqui e ali parecem criar uma unidade, juntar os pedacinhos. Na cabeça do leitor que quer achar coisas, assume papel de tática. Jogo é jogo. Então, deixa o cara jogar.
Os textos são elegantes/comedidos/curtos e não se deve resistir à tentação de retornar ao início deles na tentativa de extrair alguma coisa diferente/nova. Como quando se volta o vídeo até o momento em que o placar foi aberto. Por que negar-se este prazer? Afinal, há a cada fechamento a sensação de que podemos ter perdido algum detalhe. É bom perceber um flash de “terror”, uma graça que parece não existir pra fazer alguém rir. É bom sacar um troço ali no miolo, e da arquibancada meter um “Tá, mas e daí?”. É massa isolar uma frase que faz todo um parágrafo valer a pena ou, talvez ao contrário, sentir espaço se abrindo para alguma “dissonância” ou uma dose de “impaciência”.
Estamos diante de um sujeito que é bem mais do que candidato à vaga de redator-chefe-de-legendas na “Folha de S. Paulo”. Só lá pra ter um cargo assim (modo irônico ligado, tá?). Seria um novo patamar para as legendas (agora, modo sonhador). Mas o Velasco quer é driblar e fazer gol. Deixa o cara, deixa o cara jogar. E seguimos aguardando uma próxima aparição dele em campo.