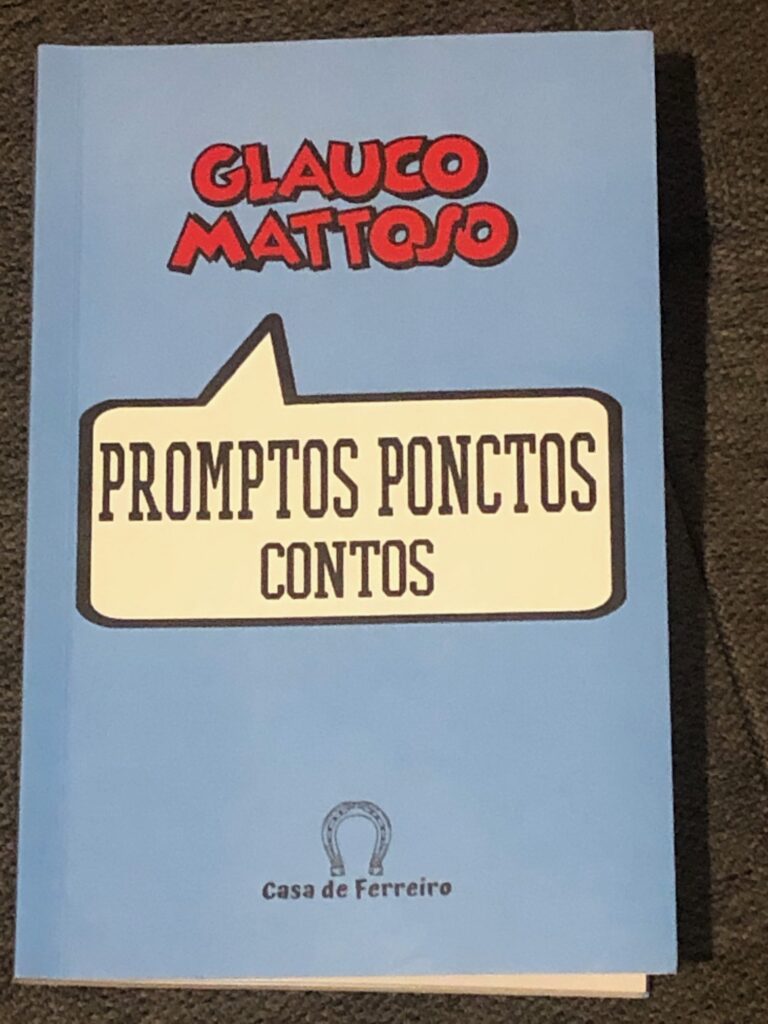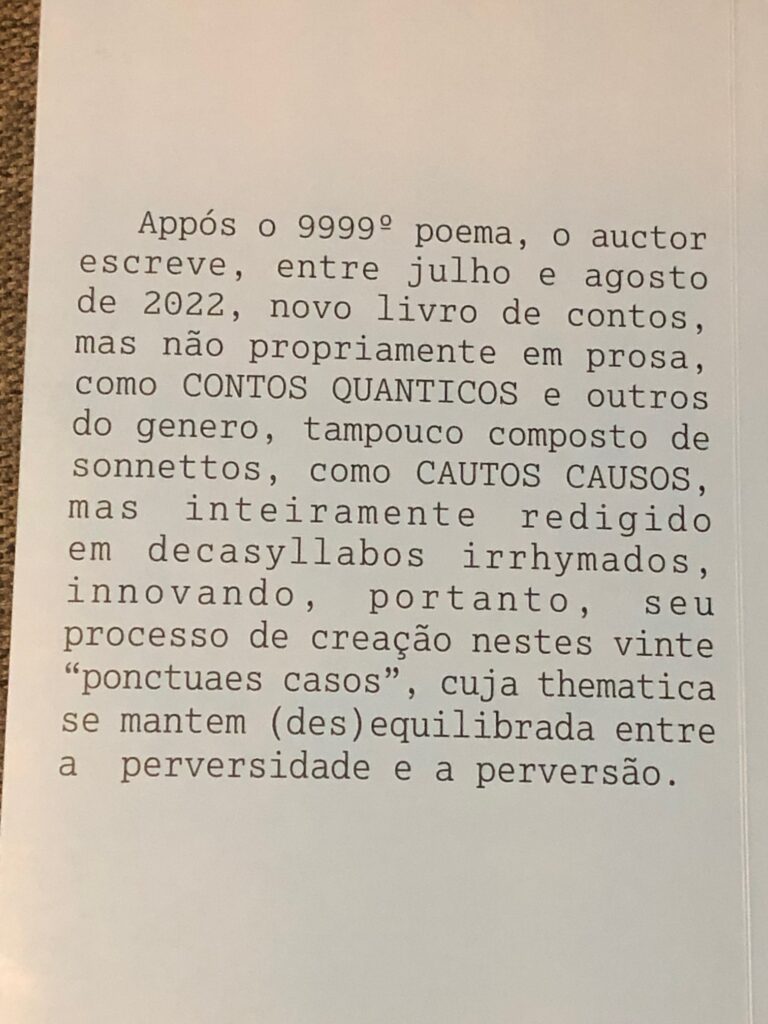Quando você tem cadernos, dá um jeito de esvaziá-los. No caso de possuir “apenas” folhas, pode por exemplo espalhar isso em postes. É muito mais “pessoal” do que aderir às campanhas pela sobrevivência dos livros, deixando exemplares disso ou daquilo perdidos por aí num certo dia do ano. Quando tem gente atrás de coisas para serem lidas, não há o que fazer, é preciso dar alguma coisa a elas. Se estiver lidando com gente esquentadinha (ou com potencial de), vale também tomar cuidado porque chamar uma coisa de “coisa” pode dar problema. Como identificar o tipo em questão? Aí, são outros quinhentos.
Domingo é um bom dia para pedir desculpas. Se houver sol, são ainda melhores as chances de aceitação. Aceitação da vida, no caso, não só do discurso implorando perdão. Porque implorar só à Deusa, né? É assim que é, é assim que está. Não vai adiantar desenhar porque vai ter gente que não entende. Aliás, tem coisa que é para desenhar e não para escrever. Coisa, de novo, né? Isso ainda vai dar problema.
A poesia, coitada, já esteve com os dias contados. Mas toda essa limitação internética, esse varejão de letrinhas amontoadas, com o qual todos nós colaboramos, quebrou o galho dos versos. A música também parece ter tido alguma sorte. Está aí em tudo quanto é publicação, isto é, post. Quando um idioma vindo do outro lado do globo dominar as coisas, qual será o resultado? É de “desespero” que pode(re)mos chamar? É tudo circo. Aliás, o Circo também não morreu. Foi se adequando até ganhar dimensões planetárias. Essa cara de palhaço estampada aí não surgiu à toa.
Você sabe que está diante de um compromisso importante quando marca para as 18h e, às 16h, já sente que está no atraso. Pode dar problema na máquina que vende cartões de embarque no metrô, pode não ter motorista de aplicativo querendo aceitar a corrida, pode quase tudo e vai ficar melhor ainda quando isso tudo te ajudar a rir da vida. Nem sempre a cerveja depois do jogo vai garantir que certas verdades sejam ditas, que o sorriso fique invariavelmente amarelo diante do amigo fura-olho. Quando o caô é pregação, você se entrega?
Faltar a uma festa de aniversário e não pedir perdão. Aceitar sorrindo um presente que no fundo é insosso. Perder de propósito um jogo de xadrez para que a criança do outro lado tenha chance de vez em quando de aprender co’a vitória e não co’a derrota. Absolver o vizinho que tira do lugar o tênis que depois da pandemia tu insistes em deixar no corredor. Suportar a morrinha que vem dos cachorros do prédio ao lado. Capinar porque ali há capim; assim como há vida, volta e fim. A estrada é feita de um dia atrás do outro. De desculpas, rezas, e, às vezes, crônicas assim-assim.