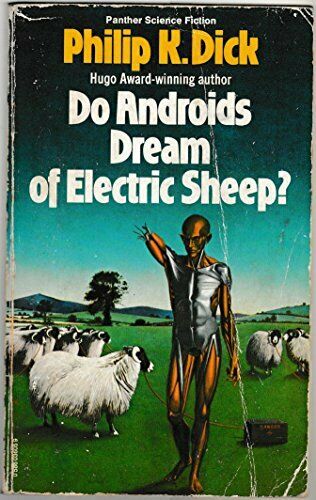Parecia perdida, ela. Olhos arregalados. Ofegante, sim; ofegante mesmo. Sem saber para onde ir e algo exausta. Suada. A calçada, que se lhe apresentava meio como um labirinto, carregava também traços bastante familiares: os poucos pinos perto do meio-fio, que estavam ali para inibir os motoristas de táxi em seus devaneios secundaristas, faziam o papel de pilastras, de tão grandes que tinham ficado. Tudo isso, sob o olhar da moça; antes de ela investir no primeiro gole de cachaça. Com as unhas dos pés e das mãos bem pintadas de vermelho, olhava para os lados como se aguardasse o Minotauro, que apareceria para gritar “Bu!”. Como que numa tentativa de manter-se lúcida, fez a piada: “Será que o Minotauro faz ‘Bu!’ ou será que faz ‘Mu!’?” Estava falando consigo mesma, mas no esquema voz-alta-mode-on. Foi a chance que o maluco do lado esperava para tentar engatar uma conversa: “Me dá também uma cachaça dessa, dona Marlene! Igual à da moça…”
Vera respirou aliviada. “É só um mané, não é o Minotauro”, comentou, depois de mexer rapidamente no painel e garantir voz-alta-mode-off. Na avaliação cordial dela, estava lidando com alguma espécie de monstrinho. Mas não teve medo. E resolveu jogar. Deu ao boy uma chance, revisitando uma gracinha antiga, apostando que assim assustaria o cara: “Oi, eu sou a Vera. Estou aqui à vera.” A parada era dizer isso bem rápido, meio que se fazendo de bêbada, meio que disparando um teste. O cara não mordeu a isca. Respondeu com um pobre “Nino. Prazer.”
A tiazinha que controlava o outro lado do balcão fingiu não ouvir o pedido do rapaz. Porque ela sabia que era cliente de gelada e não de quente. Queria evitar problemas. Vera, por sua vez, começou a falar num “lago escuro”, onde ela não tinha certeza se “pulava ou não”. Foram uns bons 15 segundos de silêncio, depois daquilo. Até que sob a sombra de um certo juízo o rapaz retomou suas práticas mais tradicionais: “Dá uma cerveja, dona Marlene. Bem gelada.” Ele e a tiazinha se entreolharam e trocaram um breve sorriso, e, estando ambos calibrados para voz-alta-mode-off, trocaram também uma frase que parecia ensaiada: “Não pode mais chamar de canela de pedreiro…” Riram alto, como se às vezes esquecessem das regulagens que fazem em seus painéis.
Cada um com seu goró. Como tinha que ser. Minotauro ia, à-vera vinha, taxistas iam, taxistas vinham e… o lago escuro não saía da pauta. Ela insistia no assunto. Falava de mergulhos. Citava encruzilhadas e igrejas. Apontava dúvidas. Mencionava o pai. Olhava inquisidora para os olhos do rapaz e falava em “transferência”. E quando ele começava qualquer frase ela devagarinho batia palmas, como que conduzindo um samba; sugerindo uma melodia, um andamento. Num primeiro momento, Nino não percebeu aquilo; mas, depois do segundo litrão, muita coisa foi ficando mais clara. Vera no entanto não parecia disposta a abrir mão de controlar o jogo. Na cabeça da moça, era o seguinte: se do outro lado do ringue não estava o Minotauro, não havia o que temer. Ou o que perder.
Em jogos de sedução, com ou sem monstros míticos, chega uma hora em que um dos dois lados pode mudar de estratégia. O que dizer sobre uma brincadeira que ocupa uma preciosa e disputada mesinha de calçada por três horas? Dona Marlene não dizia nada, ainda mais que o casal estava bebendo bem. Já eram vistos como um casal. Compraram amendoins dos moleques que passaram vendendo a iguaria. Investiram em paçoca, gomas de mascar; ajudaram uma mãe que precisava de fraldas para o bebê. O Minotauro estava demorando demais. O monstro estava perdendo. O playboy tinha chances de vencer.